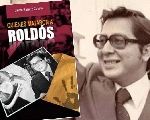Por que falamos da Revolução na América Latina?
- Detalhes
- Elaine Santos, Carlos Eduardo Bao e Vitor Cordova
- 06/01/2018
Em meio às discussões acerca das possibilidades de pedagogia decolonial e descolonial a partir das ideias da professora Catherine Walsh, pesquisadora, professora e diretora do Doutorado em Estudos Culturais Latino-americanos da Universidade Andina Simón Bolívar do Equador (Quito), que retoma as ideias de Freire e Fanon e por meio de um jogo semântico aponta possibilidades criativas de transformação, de intervenção, resolvemos falar da Revolução Latino-americana.
No trabalho de Catherine (1) ela nos traz uma introdução bastante rica e comprometida com a América Latina, recuperando o peruano Felipe Gaumán Poma de Ayala e sua luta a favor dos indígenas, combatendo as injustiças e a violência dos colonizadores.
Catherine também disponibiliza sua obra de forma gratuita e virtual, um mecanismo de popularizar e capilarizar formas críticas de análise, algo pertinente e importante, considerando que os acessos à maioria da população são cada vez mais escassos. O trabalho da professora enfatiza nas “grietas” (fendas) do sistema como forma de luta e ação, uma pedagogia da práxis.
Entretanto, a visão pertinente numa América Latina dotada de tamanha abrangência étnica deveria ser abrangida em um potencial de transformação que perpassa o reconhecimento de classe como potencialidade revolucionária a partir do que é entendido por latinidade. Isso significa que os povos indígenas, afrodescendentes, entre outros que fizeram parte da composição do povo brasileiro, peruano, boliviano, venezuelano, equatoriano...
Não poderiam ser vistos de forma esgarçada, fracionada. O jogo semântico de transformação aqui não tem como intuito ganhar unilateralidade, mas sim envolver uma gama de problemas específicos a um continente outrora colonizado, onde o avanço do capital salientou a diferença, seja na condição de acesso informacional, de necessidades da básica subsistência, pela cor de pele ou de gênero. É desta forma que a palavra Revolução ganha substancialidade e clareza abaixo da linha do Equador.
E porque falamos da Revolução? Porque dada a nossa origem de classe, de mulher negra periférica, de homem periférico, de filho de agricultores temos em comum o vínculo que nos une, viemos de baixo, da subalternidade e queremos uma transformação radical. Nunca pensamos num socialismo a imitar o Europeu, ao contrário, aprendemos a reivindicar a Revolução todos os dias em todos os espaços, na fila do pão, no café da manhã, nos canaviais, na falta de condição que nos foi imposta e foi assim que resistimos em todas as nossas ações, mesmo as menores, garantindo que o contraponto existisse e não sucumbíssemos. Também porque sabemos que o capitalismo, este que nos joga para fora a todo o momento, tolera muito bem as iniciativas progressistas inofensivas e estas não prolongam a nossa existência. Avançamos um passo, retrocedemos dez.
As reformas não são ruins, mas elas devem apontar ao coração do sistema já que o capital usa do reformismo em seu benefício, como bem disse Roque Dalton (2), a efetividade do reformismo pode amansar qualquer iniciativa de rebeldia, de jovens feministas e de todos os explorados.
Quando a esquerda revolucionária abandonou o campo da economia e passou a tratar apenas do político, do cultural e de muitos outros modismos que existem por aí, fomos abandonados, isto porque o capitalismo é política, economia e também relações sociais.
Mariátegui, em 1928, tentava estabelecer conectividade com o povo peruano indígena, dizia que muitas das terminologias usadas como “esquerda”, “revolução”, “renovação” só podem ser novas se a nova geração for absolutamente adulta e criadora no mundo.
Mariátegui nos retirou desta ilusão que é sustentada por toda a falsa esquerda em abrangência mundial, que julga ser possível chegar a uma sociedade mais igualitária através somente da política. Esta inocente ou inventiva concepção deturpa, tira de foco as armas de seu alvo. E isto não significa fazermos apologia às revoluções burguesas europeias, tratamos de uma luta nossa, uma luta anti-imperialista.
Desistir da Revolução, da possibilidade de mudar e de uma mudança para todos e todas, e não somente para alguns, é acreditar que a história é duração, como bem falou Mariátegui, na desconhecida Revista Amauta.
Nosso autor, um dos primeiros revolucionários a tentar compreender, a partir de uma análise materialista da história, a América Latina, afirmou neste número que nada vale gritar sozinho. Por mais alto que seja o som e por mais eco que faça, nada mudará, o que vale é uma ideia que potencializa a ação, que seja germinal.
Por outro lado, ninguém tem o direito do nos fazer sentir vergonha do que somos pautando a tese de empreender esforços apenas nas pequenas causas, nas fendas do sistema. Recusamo-nos a pautar nossas ações desta maneira, porque isto tornaria nossa existência inútil, nosso futuro ausente e nebuloso.
Para além do fato de que pequenas ações são premissas de quem descende da resistência dos lutadores latino-americanos, o desafio no qual vivemos é exatamente o de ir além, com o intuito de, aproximarmo-nos cada vez mais do real, ir limpando o terreno para trilhar um rumo adequado cujos dispêndios de nossas energias sejam em ações contra o capital e a favor da humanidade.
Notas:
1) WALSH, Catherine (Ed.). Pedagogías decoloniales: prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir. Tomo I. Quito, Ecuador: Ediciones Abya-Yala, 2013. 553 p
2) Un libro rojo para Lenin
Elaine Santos é socióloga, doutoranda em Sociologia no Centro de Estudos Sociais.
Carlos Eduardo Bao é sociólogo e doutorando em Sociologia Política na UFSC e realiza estágio no Centro de Estudos Sociais.
Vitor Cordova é sociólogo, doutorando em Urbanismo na PUC-Campinas e realiza estágio no Centro de Estudos Sociais.