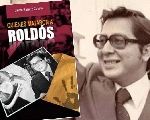A solidariedade e seu freio institucional: os mexicanos diante do terremoto
- Detalhes
- Eliana Gilet e Raúl Zibechi, da Cidade do México
- 26/09/2017

O centro parecia uma festa. Às 11 da manhã estava programada uma simulação de evacuação em caso de terremoto, em uma data simbólica. Em dia 19 de setembro de 1985 a terra tremeu e deixou um rastro de destruição e morte, no maior sismo da história recente do México. Mais de dez mil mortos, ainda que nunca se soube a cifra exata. Cerca de 800 edifícios caíram. O governo da época foi um monumento à ineficiência e a solidariedade entre os próprios cidadãos foi o que salvou vidas, recuperou corpos sepultados e transportou feridos.
Às 11 da manhã deste último 19 de setembro, era difícil caminhar entre os milhares de funcionários que enchiam as ruas de Colônia San Rafael, uma das áreas mais afetadas pelo que aconteceria horas depois. Uma serena celeuma emergia entre as centenas de grupos que festejavam, quiçá, o tempo livre fora da supervisão dos seus chefes.
Quando a terra tremeu, os edifícios bambolearam e custava para que se mantivessem em pé. Tratava-se apenas de olhar para o alto para detectar algum perigo, ou seja, a queda de algo grande sobre as cabeças. “Pinche temblor” (maldito tremor, em tradução livre da gíria mexicana), gritavam alguns quando todavia o mundo se movia freneticamente ao redor.
Logo depois, sobreveio uma tensa calmaria; milhares se acotovelavam nas ruas, agora com rostos sérios, com a premonição da tragédia estampada nos gestos. Em seguida veio a certeza de que estávamos metidos em uma imensa ratoeira da qual seria difícil de sair. Milhões de carros imobilizados, semáforos apagados, a luz e a água cortadas e uma incerteza que crescia como uma sombra ameaçadora. Avançamos uns metros e paramos.
O primeiro momento de solidariedade ocorreu quando centenas de espontâneos organizaram o trânsito agitando panos. Algumas pessoas acompanharam os que entraram em pânico até o centros de saúde. Os mais decididos, quase todos jovens, correram em direção dos edifícios colapsados para ajudar no resgate. Começaram a abrir caminho entre os escombros com as mãos e as poucas ferramentas disponíveis. Chegaram três horas antes da Armada, encarregada pelo governo a socorrer as vítimas.
Quando a terra parou de tremer, vieram correndo os vizinhos, porque os que estão mais perto são os primeiros que respondem. A proximidade é a lei nas tragédias. Uma hora mais tarde, homens e mulheres haviam armado um sistema que funcionava sob a regra básica de tirar os escombros. Não é que a população local tenha ajudado no resgate, ela foi o resgate em si.
Em um dos edifícios de seis andares que caiu em bairro chique da localidade – não em aspecto, mas em perfil socioeconômico – havia três setores, com quatro filas cada um, que iam desde o pé da pirâmide até a rua, entupidos de escombros. Na fila do meio, grupos pequenos de gente tiravam os pedaços maiores e pesados que estruturaram o edifício, enquanto as linhas dos bondes funcionavam como esteiras transportadoras em direções opostas. As coisas das pessoas que viviam ali apareciam por toda parte: uma bota sem companheira, uma foto que não perdeu o quadro de vidro apesar dos 7,1 Richter que a sacudiu; e um operário, mago do martelo, separava pedaços de parede em segundos, enquanto era observado por um rato, antes de atirá-los ao vazio que se tornou o pátio traseiro.
Se os bombeiros e o resgate da divisão de Proteção Civil mantiveram uma relação cordial com a população, indicando-a, por exemplo, que estavam escavando a tal ponto que agregava ainda mais peso à estrutura, em vez de aliviá-la, tudo mudou quando chegaram os militares da Armada, que pretenderam tirar todas as pessoas de lá aos gritos. Mas como nesse momento os de verde eram minoria, logo foram tragados pela cadeia de trabalhos que não parou, ainda que a ordem viesse de cima e com força. Uma minivitória da vida sobre a militarização de tudo.
Já de tarde, em torno da maioria dos prédios derrubados já havia sido formado um bloqueio de policiais com escudos que não permitiam a livre entrada das pessoas para colaborar. Para o segundo dia, eternas filas de jovens com capacetes e ferramentas de construção esperavam horas até que as autoridades lhes permitissem emprestar seus braços para remediar o desastre. Foi a resposta do andar de cima para frear a ação dos de baixo: deixar as pessoas de fora, esperando.
A solidariedade é perceptível na quantidade de doações que chegam aos centros de apoio. Nas ruas há um clima agitado, como de peito inflado pela resposta coletiva. Todo mundo colabora da maneira que pode, mas os mais visíveis são os jovens pós-85: não viveram o sismo anterior, mas isso não importa pra eles, porque aquela resposta coletiva diante da não ação estatal foi uma lição que ficou metida na memória de todos. Os mexicanos se orgulham da sua capacidade de resposta, que é genuína e espontânea, e decidem que seja essa a identidade que criaram para si.
A solidariedade é o milagre da vida. Como uma manta gigantesca que abriga as pessoas no meio do caos e do colapso. Uma solidariedade que mostra o melhor dos seres humanos, inclusive nesta cidade inóspita, esculpida sobre o individualismo do consumo e os valores que vêm com isto. É impossível pensar que a única salvação possível nasce dessa ternura que ainda praticam os povos e que ninguém poderá reverter.
Leia também:
México: uma cidade alisada pelo silêncio e pela morte
Raúl Zibechi é jornalista e cientista político uruguaio. Eliana Gilet é jornalista uruguaia.
Artigo publicado no semanário uruguaio Brecha.
Fotos retiradas do site VTActual. Acesse para ver mais fotografias.
Traduzido por Raphael Sanz, para o Correio da Cidadania.